Os desafios da chegada das instituições escolares em sociedades sem professores nem escrita até pouco tempo.
A experiência escolar do escritor Daniel Munduruku não poderia ter sido pior: obrigado a sair de sua aldeia, na cidade paraense de Maracanã, ele e seus irmãos foram morar em Belém, onde o pai já fazia serviços de carpintaria. Eram tempos de ditadura militar, e para os povos indígenas, naquela época tutelados pelo Estado brasileiro, o paradigma educacional era o da “integração”, eufemismo para uma política de trazer as crianças indígenas para estudar em escolas das cidades, pulverizando as etnias de forma que todos fossem obrigados a se comunicar apenas em português. Daniel lembra que na escola onde estudava ele e outros meninos indígenas eram discriminados, sofriam bullying e muita chacota. Aos poucos, nasceria nele o desejo de não ser indígena. “A escola, não só como instituição, mas também a escola-gente, ficava o tempo inteiro me lembrando de que eu estava no lugar errado, que meu lugar era outro, que eu não tinha inteligência suficiente pra viver aquela experiência”, comenta o premiado autor de Coisas de índio e Vozes ancestrais, Prêmio Jabuti na categoria juvenil, entre outras obras. Mesmo com a experiência escolar traumática, Daniel decidiu prosseguir os estudos. Convenceu os padres salesianos de que tinha vocação religiosa e conseguiu se formar em Filosofia em Manaus. Nessa época, Daniel confessa que tentava muito “ser branco”. “Passei uns três anos martelando na minha cabeça essa ideia e quem me salvou foi meu avô Apolinário. Ele viu que eu estava passando por momentos difíceis e, nas férias escolares, passou a nos ensinar de acordo com a tradição, começou a nos ensinar o orgulho de ser indígena”, relembra o autor. A saída do seminário coincidiria com a vinda à cidade de Lorena, em São Paulo, para validar o diploma. Nessa cidade, Daniel iniciaria sua carreira de professor de Filosofia no Ensino Médio, e ao deparar com os mitos gregos e a pouca aderência dessas histórias junto aos seus alunos, resolveu trazer para suas aulas as histórias contadas por seu avô. A reação dos alunos às lendas e aos mitos de origem do povo munduruku foi muito positiva. Quando uma aluna quis saber onde poderia encontrar um livro com aquelas narrativas que encantavam a todos, Daniel percebeu que ali se abria um caminho nunca imaginado por ele: aos poucos, vertendo para a escrita o rico fabulário indígena até então transmitido de geração em geração, ele se reencontraria com sua cultura e passaria a ter orgulho de sua condição. “Hoje, eu escrevo para me manter ‘índio’”, usando de forma irônica o termo pejorativo usado pelos colonizadores, que, dessa forma, buscavam uniformizar a profusão de povos e línguas que viviam por aqui antes da chegada dos portugueses, das doenças, da sociedade de classes e da propriedade privada. E da escola e da palavra escrita.
“Índios”, não! São povos indígenas
Quando Paula Mendonça se candidatou à vaga de estagiária no Instituto Socioambiental (ISA) chegou atraída pelas três áreas de atuação daquela organização: educação, meio ambiente e cultura. Com um trabalho há muito tempo consolidado na assessoria aos povos indígenas e um corpo técnico altamente qualificado, o ISA abriria para a jovem pedagoga recém-formada as portas da diversidade dos povos indígenas, composta de 263 povos, segundo o IBGE, e mais de 150 línguas diferentes. “Fiquei impressionada! Como eu não conhecia essa diversidade toda de povos e de línguas? Isso me motivou a trabalhar com esse tema, trabalhar junto aos povos indígenas para fortalecer essa luta”, relembra. Paula mergulhou de cabeça na experiência de assessorar os primeiros professores indígenas a criar seus currículos e um papel para essa instituição tão tradicional em nosso contexto, mas inexistente nas comunidades indígenas: a escola. Porém, agora sob um paradigma diferente, tendo o Referencial Curricular de Educação Indígena (RCEI), publicado em 1999, como documento norteador. Antes disso, a Constituição Federal de 1988 havia retirado a tutela do Estado sobre os povos indígenas, e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu artigo 78, asseguraria aos povos indígenas o direito a uma educação “intercultural e bilíngue”.
A assessoria pedagógica no Parque Nacional Indígena do Xingu se estenderia por uma década, de 2001 a 2010, em escolas das etnias Panará, Yudiá e Sedje, e Paula acompanhou os dilemas e as soluções encontradas pelos jovens professores no empenho de criarem uma gramática e uma escrita para alfabetizar as crianças em suas próprias línguas, além da necessidade de produzir materiais didáticos mais compatíveis com a realidade da vida na aldeia, com os valores e a estética de cada povo. “Havia muitas dúvidas, era um processo de construção contínua dessas línguas, das grafias, de como que se acentua… como é que escrevem os sons que não existem na língua portuguesa?”, relembra a educadora.

Davi Kopenawa
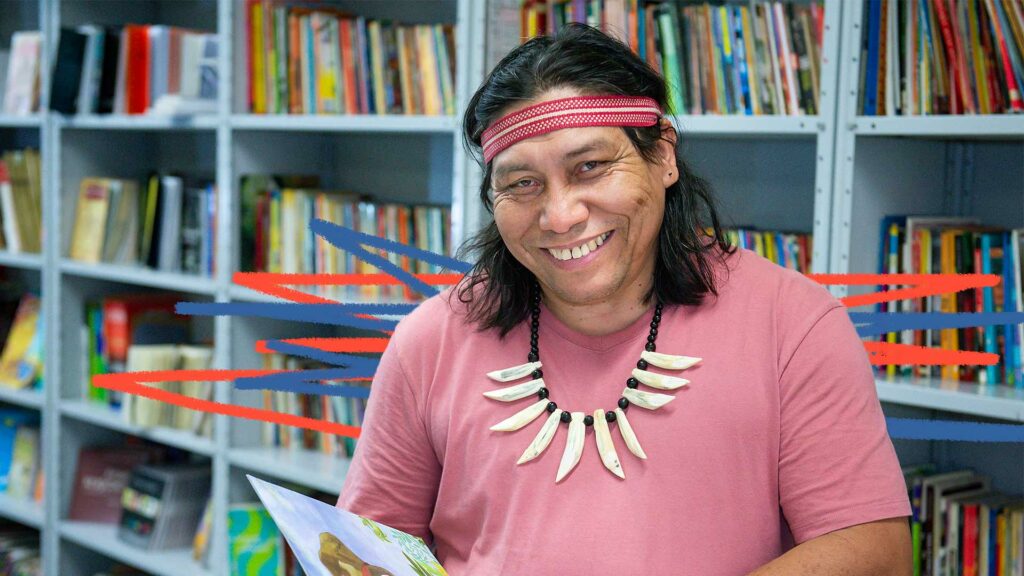
Daniel Munduruku

Aílton Krenak

Txai Suruí
A ESCRITA EM UMA SOCIEDADE ÁGRAFA
A chegada da escola na aldeia indígena não acontece sem traumas. “O conhecimento entre os povos indígenas está centrado numa tradição oral, e essa é uma forma de passar o conhecimento que tem a ver com experiência. A experiência tem a ver com longevidade. Então, é como se diz nas aldeias: ‘a criança é quem tudo pode, mas o mais velho é quem tudo sabe’. Então eles são a fonte do conhecimento, o arcabouço da cultura. Os próprios professores indígenas falavam que ‘os mais velhos são as nossas bibliotecas’, só que, de certa forma, a escola inaugura uma outra forma de adquirir conhecimento, por meio do livro, de uma carta etc. Ao mesmo tempo a escrita é uma ferramenta para lidar com o mundo de fora, não indígena, para compreender a legislação, por exemplo. Aos poucos, esses entendimentos foram sendo construídos, mas não foi sem conflitos”, observa Paula. Um dos desafios era criar um currículo que fizesse sentido para as crianças. Não bastaria trocar Cabral e suas caravelas pelos mitos de origem dos povos, priorizar a geografia e as referências topográficas locais em detrimento de latitudes e longitudes etéreas, nem escrever nomes de bichos e plantas que todos até então precisavam apenas falar, se a arquitetura curricular não dialogasse com a vida na aldeia. Foi quando surgiu a proposta de o currículo ter como elemento norteador as fases da vida. “Foi um exercício de pensar: Quando se é criança na aldeia, o que essa criança faz? Que vida ela tem? Por onde ela anda? Que conhecimentos fazem sentido para essa criança? E depois, deixa de ser criança, aí vira o quê? O que é importante ele saber dentro da sua cultura, no contato com outros povos? Ele já acompanha o pai para sair na cidade?”, explica Paula. “É todo um cuidado de sistematizar esses conhecimentos que são mais próximos das crianças, como a geografia da aldeia, as histórias do próprio povo, a língua, o modo de contar os números, de como que chamam os peixes, de como se entende o regime das águas, das chuvas, o calendário. E assim a gente foi entendendo em cada fase da vida o que era importante e quando deveríamos entrar com o conhecimento de fora, que também é necessário”, relata. O tempo do silêncio Professora de Psicologia da Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF) no campus de Angra dos Reis, a professora Renata Lopes Costa Prado tem diante de si um grupo de 34 estudantes de Ensino Médio da etnia Guarani e uma Pataxó. Trata-se da primeira turma de magistério indígena do estado do Rio de Janeiro, uma experiência que teve início em 2018. A formatura dessa turma é esperada com ansiedade pelas aldeias existentes em Angra e da vizinha Paraty, pois significa a possibilidade de uma escola de Ensino Médio voltada ao público estudantil indígena e com professores indígenas, até agora inexistente na rede de ensino estadual. Praticante da aula dialogada, ela lança uma questão, e o que ouve é o silêncio. Agora não se incomoda mais com isso, mas no começo as diferenças culturais daquele novo alunado a tiraram da zona de conforto. “O tempo do silêncio para eles é muito diferente. Eu começo a explicar uma determinada matéria, um conceito, e estou acostumada a fazer pergunta e os alunos responderem. E vem uma discussão imediatamente. Com os estudantes do magistério indígena não é assim que acontece. Eu perguntava e ficava aquele silêncio. Eu pensava: será que eles não entenderam? Será que não estão interessados? Ficava aquele silêncio. E de repente vinha uma resposta muito elaborada, uma fala superinteressante. E eu pensava: ‘olha, eu estou sendo compreendida’. Então esse silêncio é um silêncio para pensar, para refletir. A gente vive numa sociedade em que tudo é simultâneo, é rápido, imediato”, relata Renata, destacando o ambiente sereno: “Ninguém fala alto e ninguém fala junto, todo mundo se escuta”.





VISÃO CÍCLICA E SISTÊMICA
Indagado sobre o novo paradigma da educação escolar indígena, bastante diferente daquele vivido em seus tempos de estudante, Daniel Munduruku é cético. “Esses parâmetros foram escritos por pessoas não indígenas, ou seja, as pessoas imaginam o que seja interculturalidade, imaginam o que seja ser indígena, colocam isso na lei e vira um passe de mágica” observa, com a experiência de quem viveu uma experiência escolar de apartação da própria cultura. E prossegue sua análise: “os indígenas naquela ocasião não estavam tão preparados para entender o que estava mudando, que tipo de paradigma era esse, até porque o paradigma que o indígena conhece é o paradigma da sua sociedade, que é um modelo de educação sem escola. A ideia de educação escolar é uma violência para os povos indígenas, foge dessa visão cíclica e sistêmica que os povos indígenas desenvolveram ao longo do tempo, em que se aprende tudo o tempo inteiro, com todo mundo”. O ex-aluno formado sob a égide da integração do indígena que se tornou formador de professores e escritor bem-sucedido aponta, ainda, outra questão incômoda. “Quando você leva o professor pra escola indígena, você está segmentando, está criando uma classe social. E essa luta de classes começa a acontecer a partir do histórico de que um tem a autoridade porque tem conhecimento maior que o outro e porque recebe pra isso e, portanto, passa a ter uma riqueza maior que os outros. Isso foge muito ao paradigma dos povos indígenas, que formam comunidades não hierárquicas”. Mas Daniel também vê sinais para ser otimista ao conhecer escolas indígenas que encontraram o seu lugar junto aos seus, em ambientes que respeitam os saberes, a ciência e a língua dos povos originários e onde a educação é intercultural e bilíngue. “Com a presença maior de indígenas na universidade, ou já formados, e que estão pensando suas próprias pedagogias, já se pode ter alguma ideia sobre como seria essa educação diferenciada. Existem experiências entre os povos do Alto Rio Negro muito interessantes, com uma pedagogia própria, material didático também, e inclusive com o reconhecimento oficial das línguas indígenas pelo município de São Gabriel da Cachoeira”, destaca. Uma pedagogia própria parece ser o caminho possível. Mas como criar uma estrutura capaz de lidar com as especificidades de cada povo indígena e, ao mesmo tempo, contemplar o direito à educação de todas as crianças e jovens, como prega a Constituição? Paula Mendonça ecoa a proposta de algumas lideranças indígenas e educadores que atuam na educação escolar indígena: a criação de um subsistema específico para a educação escolar indígena, vinculado ao MEC, mas seguindo a lógica dos territórios, não de estados ou municípios, como, aliás, já funciona no Ministério da Saúde. “Somente no Parque Indígena do Xingu existem onze municípios”, exemplifica Paula. Segundo a LDB, a responsabilidade da educação escolar indígena é dos Estados, podendo estes estabelecer convênios com municípios. Com o retorno da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) no organograma do MEC e com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, espera-se que a educação escolar indígena ganhe destaque. E financiamento. Uma pedagogia da terra é o que, de certa forma, as novas gerações de professores indígenas acabarão por criar. Uma pedagogia que dê conta, por exemplo, de mostrar como uma e outra sociedade medem o tempo. Esse episódio, bastante revelador das diferenças culturais que precisam ser levadas em conta pelos educadores, foi relatado por um estagiário da UFF da turma pioneira de magistério indígena: era uma aula sobre medidas de tempo e a professora, antes de falar de horas, minutos e segundos, perguntou como nas aldeias se media o tempo antes da chegada dos relógios e celulares. Um aluno guarani chamado Miro explicou que, antes de os relógios chegarem, as pessoas na aldeia mediam o tempo pelo canto dos pássaros e dos sapos. Alguns pássaros cantam de manhã, outros no final do dia, os sapos fazem barulho em diferentes períodos da noite. E assim o tempo voava, antes de a escola chegar à aldeia. — De acordo com a Lei 9.610/98 é proibida a reprodução total ou parcial desta website, em qualquer meio de comunicação, sem prévia autorização.
Texto Ricardo Prado.

